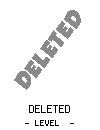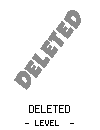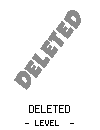A primeira é logicamente ibérica - lusitana, no caso do gaúcho brasileiro. A segunda é indígena, americana, e a terceira é gauchesca, nascida no pampa, do própri gaúcho.
A primeira fonte, a ibérica, nos forneceu as botas fortes (como as russilhonas), as esporas (como as nazarenas), as ceroulas de crivo, os calções (bragas), o cinturão, a camisa, o jaleco, a jaqueta, o barrete, o chapéu de feltro ou de palha (este, o abeiro português).
Peças indígenas de nossa indumentária são o chiripá (o primitivo chiripá), a faixa, a guaiaca original, o pala, a vincha.
E, finalmente, peças de invenção gauchesca são vários tipos de esporas, as botas de garrão, o chiripá passado entre as pernas, o cinturão de guaiacas, o tirador, o pala de seda, o poncho-pala, o poncho de oleado.
Ficam à margem das tres fontes o poncho (possivelmente europeu) e as bombachas (turcas, ao que tudo indica), peças tão importates no complexo que merecem um estudo à parte.
E o lenço? Ah, o lenço!
Seguramente essa peça deve ser incluída entre aquelas que vieram da europa. Com écharpe, cache-col ou foulard vem desde a Idade Média e é feminino e masculino, alternadamente. Na França dos Luíses aparece com destaque, sempre de seda, sempre enrolado ao pescoço, muitas vezes apertando altos colarinhos, raramente esvoaçando aos ventos, com as pontas soltas. Os marinheiros finalmente o trouxeram para as Américas, como uma gola removível de suas blusas típicas.
No cone-sul americano, na bacia do Prata o traje gaúcho a rigor nunca dispençou o lenço de seda ao pescoço.
Saint-Hilaire que esteve no RGS e no Prata em 1820/1821 viu gaúchos argentinos de Entre-Rios em São Borja e descreveu-lhes a indumentária: "Trazem os cabelos trançados e um lenço ao redor da cabeça, um outro lenço, a que dão um nó muito solto, serve-lhes de gravata; como arma exibem uma grande faca à cinta." (Viagem ao Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo, 1974, p. 34.). Da mesma época, Nicolau Dreys, igualmente francês, também menciona o lenço dos gaúchos: "...um lenço, quase sempre amarrado na cabeça,..." (Notícia Descritiva da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul, Instituto Estadual do Livro, Porto Alegre, 1961, p. 163).
No Uruguai, Juan Manuel Blanes pintou o gaúcho as vacarias de golilla, o grande lenço aberto, esvoaçando às costas. No Brasil, o pintor Jean-Baptiste Debret também debuxou o gaúcho do Rio Grande do Sul com o lenço de pescoço, nos começos do século XIX.
Insofismável como peça da indumentária gauchesca brasileira ou castelhana, resta examinar o lenço como distintivo político, deste e do outro lado do rio Uruguai. Na Banda Oriental, aparece o lenço vermelho dos colorados seguidores de Frutuoso Rivera e o lencó branco dos nacionalistas de Oribe. Na Argentina, os colorados de Juan Manuel Rosas combatiam ferozmente os azules e blancos da oposição provincial, anti-portenha.
No Rio Grande do SUl, o lenço de pescoço aparece como distintivo político na chamada Guerra dos Farrapos (1835/1845). Os farrapos de Bento Gonçalves usavam um lenço de seda aberto, com duas pontas soltas às costas, e atado de modo peculiar à frente, quase como uma cruz sobre o peito.
A propósito, José Teixeira, do Rio Pardo, que lutou no Decênio Heróico, dá uma descrição completa do lenço, alcançando até mesmo um desenho de sua maneira de usar e afirmando que os farrapos não desmanchavam o nó, uma vez feito: simplesmente tiravam o lencó - atado - pela cabeça, e depois era só colocá-lo assim mesmo, outra vez. É o que se vê das notas de Aurélio Porto ao Processo dos Farrapos, Arquivo Nacional, 1933, p. 475. O informante, ele próprio um veterano farroupilha, descreve um outro símbolo dos guerrilheiros de 35: a barba emoldurando o rosto, sem bigodes e sem cobrir a face, assim como a que usava o General farroupilha David Canabarro.
O historiador gaúcho Alfredo Varela, autor da monumental obra em seis alentados volumes Histórias da Grande Revolução, publica nas primeiras páginas do 1º volume uma litografia coloridade um quadro do pintor que se assina simplesmente Liebscher, sem maiores identificações, aparentemente extraída do livro Vita di Giusepe Garibaldi(?). Nele aparece um gaúcho do período farroupilha, segundo a legenda, em traje festivo. Esse gaúcho está usando botas fortes, chiripágauchesco (aquele passado entre as pernas, como fralda), faixa de cintura com ponta solta, jaleco, camisa com mangas fofas, lenço farroupilha (colorado, aberto nas costas e com o nó de cruz) e chapéu de feltro de copa alta e aba estreita. E, claro, ostentando a barba ao estilo dos farrapos.
O quadro é precioso pelas informações que alcança ao pesquisador. Em primeiro lugar, confirma as afirmações do veterano guerrilheiro de 35 José Teixeira, do Rio Pardo, quanto ao tipo de barba que os farrapos usavam e sobre o lencó colorado. Por outro lado, confirma as assertivas de pesquisar anteriores (Antonio Augusto Fagundes, Indumentária Gaúcha, IGTF, Porto Alegre, 1977) sobre o chiripá tipo fralda efetivamente usado pelo gaúcho, nessa época. Aliás, o autor da presente pesquisa tomou mesmo a liberdade de batizar esse chiripá com o nome de chiripá farroupilha, para distiunguí-lo do primitivo chiripá, que era uma espécie de semi-saia aberta à frente. Aliás, outros estudiosos gaúchos, que nada disseram quanto ao chiripá primitivo, negaram o chiripá passado entre as pernas, o qual agora deverão aceitar, diante da prova iconográfica, definitiva.
Houve um momento em que o alto comando farroupilha, apesar do lenço colorado aberto às costas e atado com o nó de cruz adotado espontaneamente pelos farrapos, quis dotar as suas forças de um lenço mais oficial. O grande impulsionador da idéia foi sem dúvida o major Bernardo Pires, do exército republicano, Chefe de Polícia durante a guerra, com sede em Piratini. Pires era um gaúcho de Canguçu, liberal e maçon e conhecido pelo seu heroísmo, a ponto de ser chamado O Mártir do Seival, mercê de sua atuação naquela heróica batalha. Bernardo Pires não era um homem instruído formalmente, mas era um excelente auto-didata. Artista plástico primitivista, insculpiu até borrachões de chifre, para canha. E pintou a alegoria que devia constar do lenço farroupilha, sobre uma idéia original do major Mariano de Mattos, alto prócer farroupilha, fluminense de nascimento.

O primeiro lenço foi mandado confeccionar nos Estados Unidos, por Bernardo Pires. E explica-se: a pátria de Lincoln era um modelo ideal para o Brasil que os farrapos sonhavam, com o Estados independentes e federados. Não é demais lembrar que o muito americano John Griggs, o João Grande de Camaquã, lutou e morreu integrando as forças navais republicanas, sob o mando de Garibaldi. A maçonaria vermelha, de origem francesa e de feição republicana (tem a divisão dos três poderes) tinha muita força nos Estados Unidos, na jovem república rio-grandense e no Prata. Foi, aliás, através de um comerciante de Montevidéu que foi feita essa primeira encomenda dos lenços. Chamava-se Marcial Rodriguez, esse comerciante, conforme Apolinário Porto Alegre (Cancioneiro da Revolução de 1835, Globo, Porto Alegre, 1935, p.57). O pedido foi feito a 10 de maio de 1842. Ao chegar a encomenda, a carga foi toda queimada, com as caixas e tudo, no próprio porto de Rio Grande. Era tão forte a animadversão dos imperiais relativamente aos lenços farroupilhas, que o famigeradoFrancisco Pedro de Abreu (o Chico Pedro, o Moringue, o Fuínha) dizia querer saber quem era o autor de tão infeliz lembrança para metê-lo no arrocho e defumá-lo. Os lenços finalmente chegaram a 3 de dezembro de 1943 ao acampamento volante das forças republicanas em terras de Manoel de Moura, nos campos de Piratini (que os farrapos chamavam Piratinin). Apolinário, aliás, atribuiu o desenho desse lenço ao Padre Francisco das Chagas Martins Avila (o famoso Padre Chagas, da Aseembléia farroupilha) e diz ter em seu poder (dele, Apolidário) o esboço original do trabalho, que teria sofrido apenas insignificantes modificações, comparado com o lenço mandado confeccionar por Bernardo Pires de Oliveira.
Bem, trata-se de um equívovo. Não se duvida que o tal esboço tenha realmente existido, mas se fosse o original do lenço não teria sido da autoria do Padre Chagas. Se fosse a autoria do Padre Chagas, não seria o modelo do lenço farroupilha.
Outro detalhe estranhável na crônica de Apolinário (saiu outra edição pela Erus, Cia. União de Seguros Gerais, Porto ALegre, Porto Alegre, 1981, p. 70/71) ressalta de suas afirmações. Veja-se: "Apresentavam dois padrões, conforme os desenhos remetidos. Uma é muito conhecido. Tem no centro o duplo pavilhão da República, é encimado pela fama e traz em torno as principais vitórias republicanas com os nomes locais e respectivas datas. É o que contém a quadra supra. Suponho que seja da lavra do próprio Bernardo Pires.
A quadrilha a que se refere o texto é aquela, famosa:
"Nos ângulos do continente
O pavilhão tricolor
Se divisa sustentado
Por liberdade e valor".
Mais adiante, Apolinário Porto Alegre acrescenta: "O outro padrão era menos complicado. Exibia no centro dois indígenas, cada um sustentando a bandeira tricolor, em meio desfraldo, como no outro lenço. Acompanhavam-no alguns dísticos. Este, nunca o vi".
O detalhe estranhável: nunca foi visto. Ninguém o viu, ao que parece.
Aurélio Porto, nas celebradas Notas afirma que a segunda edição dos lenços, a que tem as letras SGC (bordadas em seda e talvez iniciais do dono do lenço, segundo o historiador) foi mandada confeccionar na Alemanha, talvez, pela Casa Francisco Rasteiro & Cia., de Rio Grande, E ele, o historiador, ainda esclarece que o lenço usado para envolvr o crânio de Bento Gonçalves da Silva, quando foi translado dos seus restos mortais do cemitério do Cordeiro, em Camaquã, para o mausoléu, em praça pública, na cidade de Rio Grande, era um dos exemplares encomendados nos Estados Unidos, um dos primeiros lenços.
A respeito das famosas três letras do lenço, tão enigmáticas reina controvérsia. Será que significavam Salve, glorioso Continente, como queria Varela, sem maiores explicações? A verdade é que não foi encontrado nenhum lenço, entre os exemplares pesquisados, que não tivesse as letras SGC. Se Aurélio Porto estivesse certo, todos os exemplares conhecidos até agora são da segunda remessa.
Por outro lado, não foi encontrado até agoea qualquer exemplar com o padrão menos complicado, a que faz referência Apolinário Porto Alegre, onde apareciam dois indígenas sustentando cada um , a meio desfraldo (sic) uma bandeira tricolor.

Que se saiba, existe um exemplar do lenço farroupilha em Rio Grande, no acervo do museu do CTG Mate Amargo e que foi doado por herdeiros de Caetano Gonçalves da Silva. Esse exemplar ostenta a orla com as ondas azuis e brancas. Na Biblioteca Municipal de Pelotas o autor dessa pesquisa descobriu, emoldurado, outro exemplar do lenço farroupilha, mas de padrão diferente. É aquele que está, em tamanho menor, no centro do exemplar que tem a orla co as ondas azuis e brancas. No exemplar pelotense, a orla é vermelha, ou, pelo menos, avermelhada (a cor desbotada dificulta a precisão). Aparentemente, o exemplar de Pelotas foi recortado, para ficar menos e encaixar bem na moldura.
No Museu Júlio de Castilhos, de Porto Alegra, existem três exemplares distintos do lenço farroupilha. O primeiro é o lenço com cercadura vermelha, igual ao exemplar pelotense e está em exposição. O segundo é o lenço com a orla em ondas azuis e brancas, igual ao exemplar rio-grandino e está também exposto. O terceiro é um curioso exemplar e está em processo de restauração. Tem o padrão básico do primeiro exemplar, mas a cor predominante é um azulão forte, tipo anil. Assim, das duas, uma: ou houve um terceiro padrão, a que não aludem os cronistas (o que é altamente improvável) ou se pintou de azul um exemplar do lenço onde a cor dominante era o vermelho. O restaurador Luiz Cúria, nos começos deste século, foi o fac-totum do Museu Júlio de Castilhos e gozava da fama de ser muito bom em sua arte. Pode perfeitamente ser o autor da superposição de cores - isso, claro, na hipótese de não ter existido mesmo um terceiro padrão.
Não se pode garantir qual foi o padrão de lenço que chegou em primeiro lugar e que foi entrege aos farrapos a 3 de dezembro de 1843 nos campos de Piratinin.Tudo leva a crer que aqueles queimados com caixa e tudo no Porto de Rio Grande tinham esse mesmo padrão. Aliás, os farrapos só poderiam ter usado esse lenço durante um ano (1844) e dois meses (janeiro e fevereieo de 1845, quando se fez a paz).
O segundo exemplar, confeccionado na França ou na Alemanha, só chegou depois da paz. Conservado pelos remanescentes farrapos, aqueles que continuaram republicanos em pleno Império, vai ter muito uso exatamente na propaganda republicana. Inclusive, será pregado na bandeira tricolor dos farrapos, com brasão central. Aliás, não é demais recordar que a bandeira rio-grandense nasceu assim: os arrautos da República brasileira, seus corifeus e pregadores iniciais, pensando logicamente que a bandeira era retangular (na realidade, era quadrada) reconstituíram a bandeira com essa forma e costuraram no meio o lenço farroupilha. Com a Constituição castilhista de 1891 (a primeira constituição rio-grandense) essa bandeira foi transformada em símbolo do novo Estado. Mutatis mutandis, é a bandeira gaúcha, ainda hoje.
Além dos exemplares aqui arrolados e existentes atualmente, há mais um na coleção da Profa. Vera Stedile Zattera, de Caxias do Sul. Trata-se de um exemplar em tudo igual àquele do museu do CTG Mate Amargo, de Rio Grande. E consta que existe outro exemplar no acervo de uma escola, em Porto Alegre, o que completaria a soma de sete lenços farroupilhas identificados, até agora.
Ou oito, se considerarmos aquele que envolve o crânio do General Bento Gonçalves da Silva e que decerto está com seus gloriosos despojos no mausoléu que lhe foi erijido, na p'aça central da cidade portuária de Rio Grande - que aliás, em vida ele nunca consegui tomar.
Antonio Augusto Fagundes
Texto produzido para Vera Stedile Zattera.